Os EUA Pode Ignorar Ordem de Prisão contra Netanyahu? ENTENDA.
Em um mundo onde as linhas entre jurisdição nacional e obrigações internacionais se tornam cada vez mais tênues, a recusa dos EUA em cumprir um mandado de prisão internacional contra o líder israelense Netanyahu desafia diretamente as normas estabelecidas de conduta internacional. Este artigo explora as dinâmicas das relações internacionais analisando a ONU, UE, OMC e TPI. Discutimos a soberania estatal, Transnacionalização e a Supranacionalização e o delicado equilíbrio entre política interna e obrigações globais.
Leonardo Vicelli - Economista - Cientista Político
5/8/20248 min read
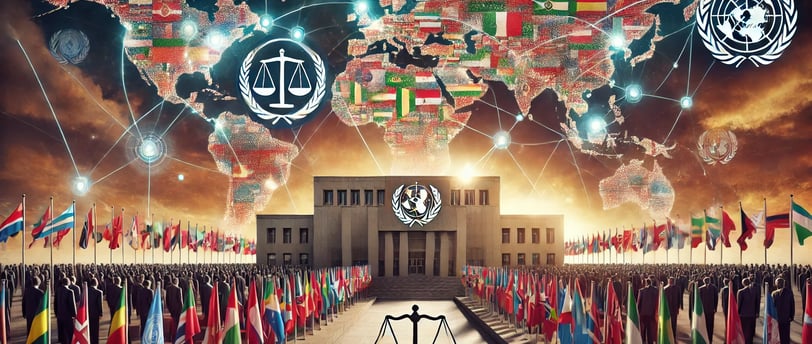

1. Natureza da Soberania Estatal
A essência da soberania estatal reside em sua capacidade exclusiva de exercer a coerção sobre os indivíduos dentro de seu território. Este monopólio da coerção não é apenas um meio de controle ou de exercício de poder; ele é fundamental para a existência e o funcionamento eficaz do Estado. Sem a capacidade de regular e limitar o uso da força, o Estado não poderia efetivamente administrar a lei, manter a ordem interna, ou proteger seus cidadãos de ameaças externas e internas.
O conceito de monopólio estatal sobre a coerção é amplamente reconhecido como um pilar central da governança soberana. Esta prerrogativa implica que apenas o Estado tem a autoridade para empregar a força física, se necessário, para impor suas leis e manter a ordem social. Dessa forma, o Estado distingue-se de outras entidades dentro do território que possam aspirar ao exercício de tal poder.
A legitimidade do Estado é um importante aspecto para a sua sustentabilidade e eficácia, tanto no âmbito interno quanto no internacional. Essencialmente, um Estado se legitima por meio da capacidade de garantir a segurança e a ordem interna, protegendo seus cidadãos contra ameaças externas e internas. Este papel de protetor é crucial para a manutenção da soberania e para o reconhecimento de sua autoridade pela população.
Portanto, o Estado, ao se engajar efetivamente em ações de defesa e segurança nacional, não apenas reforça sua soberania, mas também solidifica sua legitimidade perante sua população e outras nações. Essa dualidade de legitimidade, interna e externa, é fundamental para a estabilidade e o respeito internacional do Estado, permitindo-lhe agir de maneira decisiva tanto em níveis domésticos quanto internacionais.
O Estado moderno fundamenta sua existência no monopólio da violência legítima, sendo essa capacidade essencial para sua estabilidade e legitimidade. Quando um Estado perde essa capacidade de coerção, enfrenta sérias ameaças à sua soberania, podendo resultar em conflitos graves como guerras com Estados agressores ou guerras civis. Exemplos claros dessa dinâmica incluem a situação da Ucrânia, que enfrenta uma invasão por parte da Rússia, e os eventos da Primavera Árabe, onde a perda de controle estatal levou a conflitos internos devastadores. Em ambos os casos, a incapacidade de manter o monopólio da força dentro de seus territórios demonstra como a erosão da autoridade estatal pode levar a desordens e violência generalizada. Este entendimento destaca a complexidade da soberania no mundo moderno.
2. Soberania e transnacionalização
As entidades transnacionais, que incluem desde corporações multinacionais a organizações governamentais e não governamentais e instituições financeiras internacionais, têm capacidade de moldar políticas e normas. Esta influência não é apenas econômica, mas também política e cultural, reconfigurando a maneira como os Estados definem suas prioridades e exercem seu poder.
O fenômeno da globalização permite que essas entidades transnacionais se alojem dentro do Estado, influenciando-o tanto interna quanto externamente. Assim, o Estado moderno torna-se um instrumento dentro de uma ordem global da qual não pode facilmente se distanciar ou renunciar.
Em uma análise macroglobal, percebe-se uma disparidade significativa entre os países em termos dos benefícios e malefícios derivados da globalização. Enquanto os Estados Unidos e China, por exemplo, podem se beneficiar, outras nações enfrentam consequências menos favoráveis em alguns aspectos, por exemplo os países Europeus.
A China e os Estados Unidos ilustram claramente como as nações podem projetar sua influência através de corporações estatais ou fortemente ligadas ao estado que operam além de suas fronteiras. Essa expansão não é meramente econômica, mas também um meio de ampliar a influência geopolítica de um país.
Por exemplo, a presença de empresas chinesas e americanas em mercados estrangeiros serve como um instrumento para esses governos estenderem seu alcance, influenciando políticas e economias locais. Da mesma forma, a Rússia, através de sua exportação de gás para a Europa, exerce influência significativa, afetando a política interna dos países europeus. Essas práticas destacam como as nações utilizam corporações como ferramentas de poder, reconfigurando a organização e política dos Estados.
Além disso, as redes sociais e as empresas transnacionais digitais têm um impacto profundo na cultura e política globais. A cultura política brasileira, influenciada pela “militância”, principal movimento político cultural de esquerda, reflete tendências similares observadas na cultura "Woke" dos Estados Unidos. Isso indica que os movimentos culturais e políticos muitas vezes seguem padrões transnacionais, alterando as dinâmicas sociopolíticas internas em diversos países.
A imigração, particularmente na Europa, ilustra um enorme desafio. O aumento da imigração tem levado a tensões culturais significativas, às vezes escalando para conflitos diretos, como atentados. Este fenômeno sublinha como os desafios transnacionais como a imigração podem impactar profundamente a coesão social e a segurança dentro das fronteiras nacionais. Influencia diretamente a política dos países europeus, que precisam ponderar ambos os lados para não se tornarem impopulares.
A pluralidade e a interdependência tornam-se, assim, características centrais da nova dinâmica mundial, onde a política é compartilhada e negociada constantemente entre vários atores transnacionais e estatais. Contudo tal dinâmica se restringe apenas a zona de influência, alterando a forma que o estado governa perante a novos grupos de pressão e interesses, não sendo nenhuma ameaça a soberania estatal.
3. Soberania e Supranacionalização
A Organização das Nações Unidas (ONU), União Europeia (UE), Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Tribunal Penal Internacional (TPI) são frequentemente citadas como exemplos de instituições supranacionais que poderiam potencialmente ameaçar a soberania dos Estados. No entanto, a realidade de suas operações e a natureza de suas relações com os Estados membros revelam uma complexidade que desafia essa visão simplificada.
3.1. ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU), com seus 193 Estados membros, representa uma das mais importantes plataformas intergovernamentais do mundo. Contrariamente à percepção de que possa ser uma entidade supranacional que ameaça a soberania nacional, a ONU é, de fato, a própria manifestação desses países. Cada um dos 193 países que compõem a ONU traz sua própria soberania para a mesa, formando a estrutura e o funcionamento da organização.
A ONU não funciona como um governo global, mas sim como um fórum onde as nações podem negociar e cooperar. Ela oferece uma bancada para discussões e acordos, facilitando o diálogo e a cooperação internacional sem impor sua vontade sobre os Estados soberanos. Assim, a existência da ONU reforça o conceito de soberania ao proporcionar um espaço onde a negociação é possível e valorizada. A organização é um produto da vontade coletiva de seus Estados membros, e não uma autoridade superior que os governa.
A dinâmica da geopolítica internacional dentro da ONU é caracterizada por uma série de negociações bilaterais e multilaterais, onde os interesses nacionais são expressos e defendidos. No entanto, a realidade dessas negociações muitas vezes reflete o poder desigual entre nações, com as maiores potências exercendo uma influência mais significativa. Este fato, embora represente uma dinâmica de poder desigual, não compromete a soberania dos Estados menos poderosos, pois qualquer compromisso ou concessão é feito voluntariamente.
Assim, mesmo quando organizações internacionais como a ONU parecem influenciar a política interna de um país, isso acontece porque o país permitiu ou cedeu certos direitos através de acordos ou tratados. Essa permissão é um ato de soberania, não uma subjugação dela. Portanto, a soberania permanece intacta, uma vez que qualquer interferência direta por parte da ONU ou de suas agências requer consentimento explícito do Estado envolvido.
3.2. União Europeia
Na União Europeia, as instituições executivas, legislativas e judiciais operam com um foco específico nas questões que afetam o bloco como um todo, sem interferir diretamente nos assuntos internos dos Estados membros.
A União Europeia, por exemplo, é uma entidade única onde a adesão dos Estados é completamente voluntária, evidenciada pela existência do Artigo 50 do Tratado da União Europeia, que permite que qualquer membro decida se retirar da União. O exemplo mais notável dessa disposição é o "Brexit", onde o Reino Unido optou por sair da UE, essa capacidade de saída ilustra que, apesar de seu forte arcabouço regulatório e político, a UE não exerce poder coercitivo sobre seus membros no sentido de comprometer sua soberania. A adesão e a permanência são baseadas na vontade dos Estados, reforçando que a UE funciona mais como uma cooperação entre soberanias do que como uma autoridade suprema.
3.3. OMC
Similarmente, a Organização Mundial do Comércio, que visa facilitar e regular o comércio internacional mantendo e aplicando normas de acordos comerciais, também não possui autoridade soberana sobre seus membros. Um caso emblemático é a disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos. Apesar da OMC ter decidido a favor do Brasil em uma queixa sobre práticas protecionistas americanas, os Estados Unidos optaram por não cumprir a decisão da OMC. Esta situação destaca a limitação da OMC em impor sanções ou garantir a execução de suas decisões sem a cooperação dos Estados envolvidos.
Diante deste cenário, surge a questão crítica: como o Brasil deve reagir? A opção de impor sanções aos Estados Unidos apresenta um dilema para o Brasil. Sanções podem ser contraproducentes, prejudicando mais a economia brasileira do que a americana, devido à disparidade de poder econômico entre os dois países. O Brasil depende substancialmente do mercado americano para exportações, importação e investimentos, e medidas punitivas poderiam ser mais prejudiciais aos interesses brasileiros em relação aos americanos.
Esta dinâmica ilustra não apenas a assimetria que pode prevalecer nas negociações internacionais, mesmo quando formalmente se apresentam como simétricas, mas também a dificuldade para países de menor poder econômico em fazer valer suas reivindicações através de organizações internacionais. Assim, a realidade das relações internacionais muitas vezes revela uma dinâmica onde o poder econômico e militar sobrepõe-se a acordos formalmente estabelecidos.
3.4 TPI
O Tribunal Penal Internacional (TPI), estabelecido pelo Estatuto de Roma e composto por 123 Estados-membros, foi criado para julgar crimes graves, como genocídio e crimes de guerra, complementando os sistemas judiciais nacionais. No entanto, sua eficácia é frequentemente limitada pela vontade política dos Estados. Um exemplo notável dessa limitação foi a resposta ao mandado de prisão emitido contra o então presidente do Sudão, Omar al-Bashir, acusado de crimes em Darfur. Apesar da gravidade das acusações, diversos países hesitaram em cumprir o mandado, priorizando interesses diplomáticos e estratégicos sobre as obrigações estipuladas pelo Estatuto de Roma.
Essa relutância em cooperar com o TPI evidencia uma das principais críticas à instituição: sua vulnerabilidade ao jogo de poder global. Assim como ocorre na OMC, ONU e UE, as decisões do TPI muitas vezes esbarram na soberania dos Estados e em suas avaliações de interesse nacional ou regional. A dificuldade em implementar a justiça internacional reflete não apenas os desafios jurídicos, mas também a preponderância das relações de poder e alianças políticas.
4. Conclusão
Em conclusão, a ONU, OMC, UE e TPI são exemplos claros de como a cooperação internacional pode coexistir com a soberania nacional. Longe de sobrepor a autoridade dos Estados, ela valida e reforça a soberania ao requerer que qualquer ação ou decisão tomada dentro de seus conselhos seja fundamentada no consentimento e na cooperação voluntária dos seus membros. Essas organizações são uma entidade intergovernamental que reflete os interesses e a vontade de seus Estados membros, funcionando mais como mediadoras do que como um governante. Sendo assim, não existe atualmente nenhuma entidade supranacional de fato, sendo mais adequado o termo transnacional, onde o seu escopo de atuação se limita apenas a influência e pressão, mantendo a soberania do Estado.
Redes Sociais
Exploramos a interseção entre economia e política.
contato
Atendimento
+55 11 999801-6652
© 2024. All rights reserved.
